Seguindo na mesma toada dos textos anteriores sobre a armadilha da renda média Brasileira (você pode ler aqui) e sobre o porquê de algumas nações fracassarem (você pode ler aqui), trago hoje a resenha do livro ‘Extremos: Um mapa para entender as desigualdades no Brasil‘ de Pedro Fernando Nery (você pode compra-lo aqui), onde fui levado a uma reflexão intensa sobre as origens e os perpetradores de uma das questões mais gritantes do nosso país: a desigualdade. A cada capítulo, o autor mergulha em uma localidade representativa dos extremos de desigualdade no país, usando exemplos e dados concretos que tornam a análise ainda mais impactante. A narrativa é um convite para refletirmos sobre as estruturas que alimentam e sustentam esse abismo social.
A Realidade dos Números: Onde estamos no ranking global?
O Brasil ocupa uma posição nada honrosa no ranking de desigualdade global. Dados do Banco Mundial mostram que, com um índice de Gini acima de 0,5, estamos entre os países mais desiguais do mundo, ao lado de nações como a África do Sul, Namíbia e Zâmbia. Para efeito de comparação, países europeus como a Dinamarca e a Noruega, considerados alguns dos mais igualitários, têm índices de Gini em torno de 0,25.
E o que isso significa? Que no Brasil, enquanto uma pequena parcela da população detém uma parte gigantesca da riqueza, a maioria luta diariamente para acessar bens e serviços básicos, como saúde, educação e segurança. Vamos tentar entender os mecanismos que tornaram o Brasil uma “fábrica” de desigualdade.
Capítulo 1: Pinheiros, o Brasil de alto IDH
Começamos a viagem em Pinheiros, bairro de São Paulo, uma área com alto Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), simbolizando o extremo positivo da qualidade de vida no Brasil. O autor descreve o bairro com uma riqueza de detalhes: a arborização, a segurança, a oferta de serviços, tudo isso refletindo o privilégio de morar em um local onde a renda per capita é alta e a infraestrutura, excelente. Em Pinheiros, as oportunidades estão à disposição e o futuro parece mais promissor, garantindo uma vida confortável e longeva.
Já no início do livro, somos confrontados com um dado que choca: o 1% mais rico do Brasil detém 27% da renda nacional, enquanto os 50% mais pobres ficam com apenas 12%. Trata-se de uma disparidade flagrante, e o autor rapidamente identifica um dos responsáveis: o sistema tributário brasileiro. Ele é regressivo, ou seja, acaba pesando mais sobre os mais pobres, que pagam proporcionalmente mais impostos do que os ricos.
O autor utiliza o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) como principal métrica para essa análise, destacando Pinheiros como o bairro com o maior IDH do país, comparável a países desenvolvidos como a Suíça.
Principais pontos:
IDH e seus Componentes: O autor explica que o IDH é composto por três dimensões: longevidade, educação e renda. Pinheiros se destaca em todas as três dimensões, com alta expectativa de vida, elevado nível de escolaridade e renda per capita significativamente superior à média nacional.
Comparação com Outros Países: O IDH de Pinheiros é comparado a países desenvolvidos, como a Suíça, ilustrando o alto padrão de vida do bairro. O autor utiliza essa comparação para destacar a disparidade socioeconômica dentro do próprio Brasil, onde a qualidade de vida pode variar drasticamente entre diferentes regiões e bairros.
Concentração de Riqueza: O capítulo aborda a concentração de riqueza em Pinheiros, com a presença de imóveis de alto padrão, shoppings de luxo e restaurantes renomados. O autor utiliza o exemplo do Shopping Iguatemi, um dos mais caros do mundo, para ilustrar a opulência presente no bairro.
Desigualdade de Renda: O autor reconhece que a alta renda média de Pinheiros mascara a desigualdade de renda existente dentro do próprio bairro. Apesar do alto padrão de vida, a disparidade entre os mais ricos e os mais pobres ainda é uma realidade.
Impacto da Desigualdade: O capítulo discute como a desigualdade de renda afeta a qualidade de vida, limitando o acesso a oportunidades e serviços básicos para os menos favorecidos. O autor argumenta que, apesar da alta qualidade de vida em Pinheiros, a desigualdade persistente representa um desafio para o desenvolvimento social e econômico do país.
A leitura desse capítulo me fez pensar sobre o quão restrito é o acesso a esse tipo de vida para a maior parte dos brasileiros. Em Pinheiros, o dinheiro traz segurança e qualidade de vida, mas ao mesmo tempo, nos lembra de que poucos têm essa sorte. E assim, seguimos para o próximo ponto da nossa jornada, onde a realidade é completamente oposta.
Capítulo 2: Ipixuna, o outro lado do Brasil
Saímos do centro financeiro de São Paulo para o remoto município de Ipixuna, no Amazonas. Com o menor IDH do país, Ipixuna é o extremo oposto de Pinheiros. A população indígena local enfrenta uma dura batalha pela sobrevivência em um contexto de carência de infraestrutura básica, saneamento, e serviços de saúde. É um contraste chocante que expõe, com clareza, as desigualdades regionais e sociais do Brasil.
O autor explora em seguida a importância da primeira infância, quando 40 milhões de brasileiros vivem com menos de R$ 900 por mês. Ele mostra, com exemplos práticos, como investir em educação infantil e em transferências de renda pode gerar um alto retorno para a sociedade. Um dado impactante que ele traz é que, devido à falta de investimento, o Brasil “desperdiça” metade do talento de suas crianças. O termo é forte, mas reflete uma verdade incômoda: milhões de crianças têm seu potencial minado antes mesmo de ter a chance de competir.
O autor utiliza o Índice de Vulnerabilidade Social (IVS) para embasar essa análise, destacando as dificuldades enfrentadas pela população em áreas como saúde, educação e infraestrutura.
Fatores que contribuem para a baixa qualidade de vida em Ipixuna:
Isolamento Geográfico e Dificuldades de Acesso: Ipixuna está localizada em uma região remota da Amazônia, sem acesso rodoviário. O único meio de transporte é fluvial, o que dificulta o acesso a serviços básicos, como saúde e educação, e limita as oportunidades econômicas.
Precariedade na Infraestrutura: A falta de infraestrutura básica, como saneamento básico, energia elétrica e internet, impacta negativamente a qualidade de vida da população de Ipixuna. A precariedade na infraestrutura escolar também é um problema, com escolas sofrendo com incêndios e falta de recursos.
Vulnerabilidade na Primeira Infância: O capítulo destaca a alta vulnerabilidade na primeira infância em Ipixuna. As crianças enfrentam desnutrição crônica, falta de acesso à educação de qualidade e um ambiente familiar com dificuldades socioeconômicas.
Impacto da Pobreza na Fase Adulta: O autor argumenta que a pobreza na infância tem consequências negativas para a vida adulta, perpetuando o ciclo de pobreza e limitando as oportunidades para os indivíduos.
Importância do Investimento na Primeira Infância: O capítulo defende a necessidade de investimentos robustos na primeira infância, com foco em áreas como saúde, nutrição e educação, para quebrar o ciclo de pobreza e promover o desenvolvimento social e econômico de longo prazo.
Assim como o capítulo 1, o capítulo 2 usa um local específico para ilustrar um problema social mais amplo. Enquanto Pinheiros representa a alta qualidade de vida de uma pequena parcela da população, Ipixuna evidencia a dura realidade enfrentada por milhões de brasileiros que vivem em condições de extrema pobreza e vulnerabilidade social.
Vale salientar que o autor utiliza diferentes índices para comparar Pinheiros e Ipixuna. Enquanto o IDH é usado para avaliar o desenvolvimento humano em áreas urbanas, o IVS é mais adequado para analisar a vulnerabilidade social em municípios menores.
Usa dados que falam por si: enquanto em Pinheiros a renda e os serviços públicos são de primeira linha, em Ipixuna o básico é um desafio constante. Nery questiona se, com tanta disparidade, é possível falarmos de um “Brasil” unificado, ou se estamos vivendo em um país fragmentado, onde cada região parece ter seu próprio destino e suas próprias oportunidades.
Capítulo 3: Morumbi, onde a longevidade é um privilégio
A jornada continua para o Morumbi, bairro de São Paulo conhecido pela alta expectativa de vida de seus moradores. Com suas mansões, áreas verdes e segurança, o Morumbi mostra o lado privilegiado da desigualdade: uma realidade em que dinheiro literalmente compra mais anos de vida.
O autor apresenta dados de como a expectativa de vida nas áreas mais ricas é muito superior à de bairros pobres – um reflexo direto do acesso aos melhores serviços de saúde e infraestrutura. Aponta para uma diferença de expectativa de vida entre ricos e pobres que chega a ser mais alta do que a diferença entre fumantes e não fumantes.
Aspectos importantes sobre o Morumbi:
Símbolo de Desigualdade: O autor destaca o contraste gritante entre o Morumbi e a favela vizinha de Paraisópolis. Uma foto aérea de Tuca Vieira, que mostra a disparidade entre os prédios luxuosos do Morumbi e as casas simples de Paraisópolis, se tornou um símbolo mundial da desigualdade.
Riqueza e Menor Mortalidade: O Morumbi apresentou resultados mais favoráveis do que outras regiões da cidade com população de idosos semelhante, mas mais pobres, durante a pandemia. A riqueza se correlaciona com menor mortalidade, não apenas pelo COVID-19, mas também por outras doenças.
Discussão sobre Tributação de Patrimônio: A abundância de mansões no Morumbi serve como ponto de partida para a discussão sobre tributação de patrimônio. O autor questiona se a desigualdade é realmente um problema e se vale a pena combatê-la.
Impacto da Desigualdade na Democracia: O capítulo explora como a desigualdade afeta o crescimento econômico e a democracia. A assimetria de poder, gerada pela desigualdade, pode corroer as vantagens da democracia.
Desigualdade de Oportunidades: O autor foca na desigualdade de oportunidades, considerada mais danosa para as sociedades. A falta de acesso a recursos e oportunidades para os menos favorecidos perpetua o ciclo de pobreza e limita o potencial de desenvolvimento do país.
Exemplo do “Banqueiro Bilionário”: Um áudio vazado de um banqueiro bilionário, que se gaba de sua influência com autoridades importantes para uma plateia de filhos de empresários, ilustra como a riqueza e o poder se concentram em um grupo seleto da sociedade. Esse episódio demonstra a falta de oportunidades para a maioria da população e como a desigualdade limita a mobilidade social.
Tributação de Heranças: O autor defende a tributação de heranças como forma de redistribuir riqueza e combater a desigualdade. A questão central é encontrar a alíquota ideal para esse tributo, que permita uma arrecadação robusta sem inibir o enriquecimento dos indivíduos.
IPTU e seus Limites: O capítulo discute o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) como um imposto sobre o patrimônio no Brasil. Apesar de ser progressivo até certo ponto, o IPTU deixa de incidir sobre os brasileiros mais ricos.
Pensei em como esse dado é revelador. A diferença de expectativa de vida entre os mais ricos e os mais pobres do Brasil não é só uma questão de saúde pública, mas de justiça social. A comparação com o próximo destino deixa isso ainda mais evidente.
Capítulo 4: Mocambinho, onde a expectativa de vida é uma luta diária
Em contraste com o Morumbi, encontramos o Mocambinho, um bairro periférico de Teresina, onde a expectativa de vida é uma das mais baixas do país. Aqui, a pobreza, a violência e a falta de acesso a serviços de qualidade impactam diretamente na longevidade dos moradores, onde o desemprego chega a ser três vezes maior do que entre adultos mais velhos.
Sem oportunidades, muitos desses jovens acabam envolvidos em situações de violência e criminalidade, um ciclo que perpetua a exclusão social. Nery relata a dura realidade do Mocambinho, onde as ruas sem asfalto e as casas precárias são o cenário do dia a dia e defende uma reforma trabalhista que crie mais oportunidades para os jovens.
Fatores que contribuem para a baixa expectativa de vida em Mocambinho:
Mortalidade entre jovens e adolescentes: A violência urbana é um fator crucial que impacta a expectativa de vida em Mocambinho, especialmente entre jovens e adolescentes. O autor cita a atuação de facções criminosas e tribunais do crime como elementos que contribuem para a violência na região.
Precariedade na saúde: O capítulo menciona a precariedade na saúde como outro fator que influencia a baixa expectativa de vida em Mocambinho. A superlotação na maior maternidade pública do Piauí, localizada em Teresina, com relatos de bebês dividindo o mesmo leito e altas taxas de mortalidade infantil, ilustram a falta de investimento e a precariedade do sistema de saúde.
Desigualdade de oportunidades: O autor conecta a pobreza e a violência à falta de oportunidades em Mocambinho. A baixa escolaridade, o desemprego e a falta de acesso a serviços básicos criam um ciclo vicioso que perpetua a pobreza e a violência.
Importância do mercado de trabalho: O capítulo destaca a importância do mercado de trabalho como um fator chave para combater a desigualdade e a pobreza. O autor discute diferentes políticas públicas, como o salário mínimo e as transferências de renda, e seus impactos na vida dos moradores de Mocambinho.
Essa comparação é dolorosa. Enquanto alguns desfrutam de uma vida longa e próspera, outros vivem cercados por condições que limitam suas chances de alcançar a velhice. A desigualdade se manifesta, assim, de forma cruel, quase roubando anos de vida de quem já nasce em desvantagem.
Capítulo 5: Distrito Federal, a disparidade no prêmio salarial
O Distrito Federal é o próximo destino, representando a unidade mais rica da federação. É onde está o “prêmio salarial” do funcionalismo público, uma diferença significativa entre os salários do setor público e do setor privado. Esse prêmio, diz o autor, é uma distorção que contribui para a concentração de renda, com servidores ganhando quase o dobro do que ganhariam na iniciativa privada.
O gasto público federal na capital chega a ser 25 vezes maior do que no estado do Amazonas, o que gera um prêmio salarial para o setor público em Brasília. Esse “privilégio” acentua a concentração de renda na região e reflete como o poder público contribui, mesmo que indiretamente, para a desigualdade.
Fatores que contribuem para a riqueza do Distrito Federal:
Concentração de Servidores Públicos: O Distrito Federal abriga a capital do país, Brasília, e concentra um grande número de servidores públicos federais, que desfrutam de altos salários e benefícios. O autor destaca o “prêmio salarial” do serviço público, que se refere à diferença salarial entre servidores públicos e trabalhadores do setor privado com níveis de escolaridade semelhantes. Esse prêmio é significativamente maior no Brasil, especialmente no Distrito Federal, em comparação com outros países.
Custos do Serviço Público: O capítulo discute os custos do alto prêmio salarial e dos benefícios generosos oferecidos aos servidores públicos. O autor menciona casos de “fura-teto”, onde órgãos públicos criam mecanismos para burlar o teto constitucional para os salários dos servidores públicos.
Impacto na Desigualdade: A concentração de servidores públicos bem remunerados no Distrito Federal contribui para a desigualdade de renda no país. O autor argumenta que o alto custo do serviço público limita os recursos disponíveis para investimentos em áreas como educação, saúde e infraestrutura, que beneficiariam a população como um todo.
Comparando o Distrito Federal com o Maranhão:
O autor estabelece um paralelo entre o Distrito Federal, a unidade federativa mais rica, e o Maranhão, o estado mais pobre do Brasil, que será explorado no capítulo 6. Essa comparação servirá para aprofundar a discussão sobre a desigualdade regional no Brasil e os desafios para a promoção do desenvolvimento econômico e social em todas as regiões do país.
É interessante pensar em como o próprio governo, que deveria ser o maior promotor de igualdade, acaba favorecendo certos grupos de forma desproporcional. Será que uma reforma administrativa realmente poderia corrigir isso?
Capítulo 6: Maranhão, o Brasil da pobreza crônica
Do Distrito Federal, com a maior renda per capita, seguimos para o Maranhão, o estado mais pobre do Brasil. O autor descreve o Maranhão como uma “ferida aberta” da desigualdade, com taxas alarmantes de analfabetismo, desnutrição infantil e mortalidade materna. A pobreza crônica é resultado de uma história de exploração e abandono, perpetuando um ciclo difícil de romper.
Esse capítulo é um lembrete do quanto a história pesa na formação das desigualdades atuais. A falta de investimentos em educação e infraestrutura no Maranhão revela a complexidade do problema e o quanto ainda precisamos caminhar para que o Brasil seja um país mais justo.
Analisando a pobreza no Maranhão
Profunda Desigualdade Social: O Maranhão apresenta os piores índices de pobreza e extrema pobreza do Brasil. Um a cada dois habitantes vive na pobreza, enquanto um em cada cinco enfrenta a extrema pobreza. Essa disparidade é gritante quando comparada ao Distrito Federal, onde o PIB per capita é 2,2 vezes maior que a média nacional e 5,3 vezes superior ao do Maranhão.
Legado Histórico da Escravidão: O Maranhão teve uma das maiores proporções de escravizados em sua população no passado. Esse legado histórico contribui para as desigualdades sociais e econômicas enfrentadas pelo estado até os dias atuais.
Trabalho Escravo Contemporâneo: O Maranhão é o estado mais afetado pelo trabalho escravo contemporâneo no Brasil, segundo o Ministério Público do Trabalho (MPT). Essa exploração viola direitos humanos básicos e perpetua a pobreza e a desigualdade.
Dificuldades de Acesso à Moradia: A falta de moradia adequada é um problema grave no Maranhão. O estado contribui significativamente para o déficit habitacional do país, com milhares de famílias vivendo em condições precárias.
“Tirania das Baixas Expectativas”: O autor utiliza o conceito de “tirania das baixas expectativas” para descrever como a falta de oportunidades e a pobreza crônica limitam as aspirações e o potencial dos maranhenses. A escassez de exemplos de sucesso e a falta de acesso a recursos básicos criam um ciclo vicioso de pobreza e desigualdade.
“Teorema de Góes” e a Percepção Distorcida da Riqueza: O autor cita o “Teorema de Góes” para ilustrar como a percepção de riqueza no Brasil é frequentemente distorcida. As pessoas tendem a se comparar com seus pares, considerando-se “menos ricas” do que realmente são, o que dificulta a percepção da real dimensão da pobreza e da desigualdade.
O capítulo 6 busca lançar luz sobre a complexa realidade do Maranhão, explorando as causas históricas e contemporâneas da pobreza no estado. O autor defende a necessidade de políticas públicas eficazes para combater a desigualdade, promover o desenvolvimento econômico e social, e garantir oportunidades para todos os maranhenses.
Para Nery, o desenvolvimento das cidades como polos de tecnologia e inovação pode ser uma solução. A questão é como atrair esses investimentos para regiões historicamente negligenciadas.
Capítulo 7: Nova Petrópolis, o envelhecimento e o desafio previdenciário
Em Nova Petrópolis, localizada na Serra Gaúcha, cidade com uma alta proporção de aposentados, o autor discute o desafio do envelhecimento da população e o impacto sobre o sistema previdenciário brasileiro. Destaca o alto gasto público com aposentadorias e pensões, especialmente para servidores públicos e militares, apontando a necessidade de uma reforma previdenciária para garantir a sustentabilidade do sistema.
O autor destaca a desigualdade presente no sistema previdenciário, onde pessoas com melhor acesso ao mercado de trabalho formal se aposentam mais cedo e com benefícios maiores, enquanto aqueles com histórico de informalidade enfrentam dificuldades para se aposentar.
Alguns pontos importantes sobre a desigualdade na aposentadoria:
Modelo Privilegia Aposentadoria Precoce para os Mais Ricos: O sistema previdenciário brasileiro, antes da reforma de 2019, permitia a aposentadoria por tempo de contribuição, sem idade mínima, para quem tinha longos períodos de trabalho formal. Isso beneficiava as regiões mais ricas e as melhores profissões, onde a informalidade é menor.
Desigualdade Regional: As idades médias de aposentadoria no Sul do país são significativamente mais baixas do que no Norte, evidenciando a disparidade regional na prosperidade econômica e no acesso ao trabalho formal.
Desigualdade de Gênero e Raça: Mulheres e negros, historicamente com maior dificuldade de inserção no mercado de trabalho formal, enfrentam obstáculos para se aposentar, recorrendo frequentemente ao Benefício de Prestação Continuada (BPC), que não exige contribuição.
Reforma de 2019 e seus Impactos: A reforma da previdência de 2019, apesar de controversa, mitigou a disparidade nas regras de aposentadoria, estabelecendo idade mínima para todos. No entanto, a convergência não foi completa, especialmente para mulheres.
Gasto Público Concentrado nos Mais Ricos: O gasto previdenciário no Brasil é desproporcionalmente direcionado aos mais ricos, devido aos privilégios presentes no sistema.
O gasto com previdência consome mais da metade do orçamento federal, algo insustentável a longo prazo. Como equilibrar o direito dos aposentados com a capacidade do Estado de financiar a previdência? Em um país tão desigual, o desafio é ainda maior.
Capítulo 8: Severiano Melo, o auxílio emergencial como salvação
Por fim, o livro cita Severiano Melo, no Rio Grande do Norte, cidade onde o auxílio emergencial teve um impacto significativo durante a pandemia, reduzindo temporariamente a taxa de extrema pobreza. Este capítulo mostra o papel das transferências de renda e do auxílio emergencial como um alívio para os brasileiros em situação de vulnerabilidade que beneficiou cerca de 70 milhões de pessoas e reduziu a taxa de extrema pobreza para 2%.
O autor utiliza Severiano Melo para discutir a importância do auxílio emergencial durante a pandemia, bem como os desafios e as oportunidades de programas de transferência de renda como o Bolsa Família.
A temática central do capítulo é a renda básica e as políticas de transferência de renda no Brasil, com foco no impacto do auxílio emergencial durante a pandemia de COVID-19. O autor explora o papel crucial do auxílio para mitigar os efeitos socioeconômicos da crise, especialmente entre os mais vulneráveis.
Uma peculiaridade de Severiano Melo é que o número de beneficiários do auxílio emergencial era maior que a própria população da cidade, segundo o IBGE. A explicação para isso, segundo Magaly, a assistente social e cordelista que conhecemos no Prólogo, reside no fato de que comunidades nas divisas entre Severiano Melo e os municípios vizinhos Itaú e Apodi têm sua população contabilizada como sendo dos municípios vizinhos, mas seus habitantes utilizam os serviços de Severiano Melo, incluindo o acesso ao auxílio emergencial.
O autor destaca o impacto positivo do auxílio emergencial na redução da pobreza e da desigualdade no Brasil. É citado o estudo de pesquisadores da USP que estimou uma queda de mais de 10% no índice de Gini logo após a implementação do auxílio emergencial.
O capítulo também discute as críticas ao auxílio emergencial, como a alegação de que seu alcance foi excessivo e que o foco deveria ser apenas em quem já era pobre antes da pandemia. O autor argumenta que, em momentos de crise como a pandemia, a velocidade e a abrangência dos pagamentos são essenciais para garantir a proteção dos mais vulneráveis.
O capítulo explora a evolução dos programas de transferência de renda no Brasil, desde o Bolsa Família até o auxílio emergencial, e a mudança na percepção sobre a importância desses programas, inclusive entre os antigos críticos do Bolsa Família.
Esse exemplo de Severiano Melo revela o potencial de políticas públicas de transferência de renda. É um sinal de que, quando o Estado investe em uma rede de proteção, milhões de vidas podem ser melhoradas. O autor sugere que a experiência do auxílio emergencial poderia inspirar um programa de renda básica mais permanente no Brasil.
Uma jornada pelos extremos de um país fragmentado
A desigualdade no Brasil não é um acidente, mas o resultado de escolhas políticas e estruturais. Cada capítulo é uma peça de um quebra-cabeça maior, mostrando que a desigualdade é multifacetada e está enraizada em várias áreas – da tributação ao sistema educacional, das disparidades regionais às oportunidades limitadas para os jovens.
O autor nos convida a percorrer diferentes “Brasis”, mostrando que a desigualdade não é uma questão de escolhas individuais, mas um reflexo das estruturas e políticas que favorecem uns e negligenciam outros.




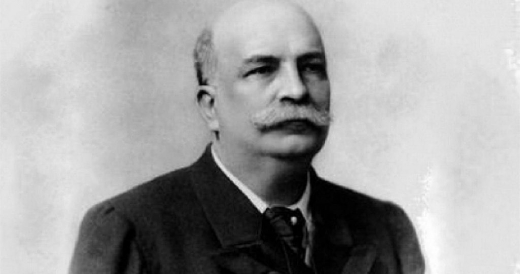
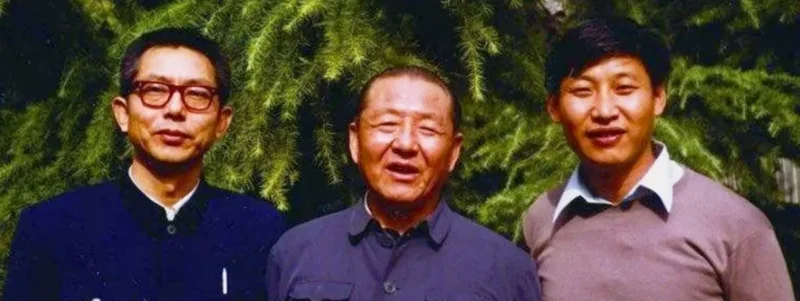



2 Comments